Rodrigo Casarin – Em 1998 que a jornalista Eliane Brum viajou pela primeira vez à Amazônia, para escrever uma reportagem sobre a Transamazônica para o jornal gaúcho Zero Hora. Depois, em 2000, colaborando com a revista Época, realizou diversas viagens para diferentes lugares da floresta. Em 2004 que descobriu uma das regiões, a seu ver, mais extraordinárias do lugar: a Terra do Meio, no Pará, onde só chegou após cinco dias cortando rios sobre uma voadeira – história que está contada no livro “O Olho da Rua” e que, por mostrar como grileiros ameaçavam os beiradeiros, foi decisiva para a criação da Reserva Extrativista do Riozinho do Anfrísio. “Era um Brasil que o Brasil oficial ignorava”, recorda.
A relação com a floresta, com os povos e com os rios da bacia do Xingu se aprofundou. Em 2011, passou a acompanhar de perto a construção da usina de Belo Monte, “uma catástrofe que os povos originários e os movimentos sociais tinham conseguido evitar por décadas”. Em 2016, finalmente, andando pelas ruas de Altamira, percebeu que era hora de deixar os centros urbanos do sul ou do sudeste e se mudar para a região. Logo passou a ter a própria Altamira como base. É a partir dessa cidade – o maior município em extensão do Brasil e também o mais violento, segundo dados do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) – que busca retratar e iluminar os conflitos e contradições que imperam pelo Brasil.
Essa tentativa de interpretar o país virou livro. Eliane acaba de publicar “Brasil, Construtor de Ruínas – Um Olhar Sobre o País, de Lula a Bolsonaro” (Arquipélago, mesma casa dos outros títulos aqui citados), no qual analisa o que vivemos nas duas primeiras décadas deste século, período em que “nos amamos tanto para em seguida nos odiarmos tanto”, como escreve. Traço fundamental de sua obra, a jornalista tece suas análises a partir da perspectiva dos menos favorecidos, dos povos das periferias, das florestas, dos que vivem sendo acossados no cotidiano. Também se preocupa em reestabelecer a verdade, conceito que, para muita gente, parece ter se tornado completamente abstrato.
Autora de títulos como “A Vida que Ninguém Vê”, que levou o Jabuti de livro-reportagem de 2007, o memorialístico “Meus Desacontecimentos” e o romance “Uma Duas”, a autora hoje colabora com reportagens para o The Guardian e é colunista do El País. Na entrevista a seguir, concedida por e-mail, pensa na ascensão da extrema direita no Brasil, comenta o que chama em seu novo livro de “boçalidade do mal” e conta o que mudou na Amazônia – ou nas Amazônias, como prefere dizer – desde que Jair Bolsonaro se tornou presidente. Também dispensa discursos esperançosos – “Ao contrário da maioria, eu não tenho grande apreço pela esperança. Acho que ela é supervalorizada e tem sido manipulada por políticos à esquerda e à direita” – e conta o que aprendeu convivendo com povos que já presenciaram, da sua forma, o fim do mundo:
“Viver numa das Amazônias, a do Médio Xingu, me deu uma outra compreensão da vida. Como convivo com povos cujos ancestrais já viveram o fim do mundo antes, caso dos indígenas, e com povos que acabaram de viver o fim do mundo de novo, caso dos indígenas e dos beiradeiros atingidos pela usina hidrelétrica de Belo Monte, tenho testemunhado como eles lutam. Nunca tinha visto ninguém lutar assim antes. Usam a alegria como ‘potência de agir’. A alegria de estar junto e de compartilhar a vida, mesmo na catástrofe. Riem por desaforo diante dos déspotas do mundo”.
Consequência de erros da esquerda, especialmente do PT, apoio de nossa elite empresarial e econômica, reflexo do que pensa parte considerável da população de nosso país, oportunismo com o desgaste do meio político, consonância com um movimento conservador, reacionário ou retrógrado global…. Na sua avaliação, o que causou a ascensão da extrema direita por aqui?
Tudo isso que você citou e mais algumas coisas. O que acontece no Brasil se inscreve na crise global das democracias. Vivemos o fenômeno dos “déspotas eleitos”. Além do Brasil, em diferentes níveis, os mais notórios são Estados Unidos, Hungria, Filipinas, Turquia, Índia e Rússia. Temos também o Reino Unido vivendo um momento patético com o Brexit. Mas, se o Brasil se inscreve num fenômeno global, há também as particularidades da crise brasileira. Primeiro, é preciso lembrar que, caso o judiciário não tivesse intervindo, as pesquisas mostravam que Lula poderia ter ganhado a eleição de 2018. Assim, a extrema direita venceu porque o candidato em primeiro lugar nas pesquisas estava preso por um processo povoado por abusos do poder judiciário e despovoado de provas. Lula foi preso para não ser presidente, o que é totalmente arbitrário. Antes disso, Dilma Rousseff havia sido tirada do poder por um impeachment sem consistência. No dia da votação do impeachment, Bolsonaro, então deputado federal, homenageou um torturador reconhecido pela justiça como torturador. Fez apologia ao crime literalmente diante das câmeras do mundo inteiro. Não foi responsabilizado. Naquele momento, a fragilidade e/ou omissão das instituições ficou explícita. Não sabíamos, mas aquele foi o lançamento da campanha de extrema direita. Seus protagonistas perceberam claramente que havia espaço para avançar.
O bolsonarismo representa uma parcela dos brasileiros. Sem Lula, Bolsonaro venceu a eleição. Dedico grande parte do meu livro analisando esse processo, o peso de cada um dos fatores e as responsabilidades de cada um dos protagonistas. O que me parece importante destacar é que a votação da classe média em Bolsonaro foi uma reação, em grande parte, às cotas raciais e à PEC das domésticas. Não há como compreender nenhum momento da história do Brasil sem compreender que o racismo estrutura o país. Não é por acaso que bolsonaristas dizem que “o PT inventou o racismo” ou que “o PT inventou a luta de classes”. Para uma parcela da esquerda, o PT fez muito pouco no poder porque não fez mudanças estruturais. Não tocou na distribuição de renda, por exemplo, nem fez a reforma agrária. Mas, para uma parcela significativa da classe média brasileira, a ocupação pelos negros de espaços de poder até então reservados aos brancos, como as universidades, atingiu privilégios que eram considerados direitos. Da mesma forma, no momento em que as empregadas domésticas passam a ter seus direitos (quase) igualados ao dos demais trabalhadores, interfere naquilo que também era compreendido como um direito das famílias de classe média.
A possibilidade de as mulheres de classe média terem uma carreira no Brasil e passarem a somar sua renda para sustentar a família não foi assegurada por políticas públicas como creches, por exemplo, mas pela existência e reprodução de uma categoria de mulheres trabalhadoras exploradas, que eram exauridas numa rotina com escassos direitos, na qual eram obrigadas a abrir mão do cuidado de seus próprios filhos. A maioria das domésticas é composta por negras. O pouco que foi feito, e com tanto atraso, na forma de ações afirmativas como cotas raciais e na ampliação de direitos trabalhistas básicos atingiu profundamente a classe média brasileira – e a “paz” que pressupõe manter os negros com as piores condições gerais de vida e as maiores probabilidades de morte por violência e por doença. Esta é a “pacificação” que as elites econômicas, políticas e às vezes também intelectuais costumam propor quando se sentem ameaçadas, ainda que apenas pela perda de privilégios como o de falar sozinha. A paz de a maioria da população se submeter passivamente a uma vida de precariedades e consumição de seus corpos.
Em certo momento de “Brasil: Construtor de Ruínas” você lembra de Hannah Arendt e do conceito de “banalidade do mal” para dar um passo além e constatar a “boçalidade do mal”, que emerge das redes sociais. Estas “abriram a possibilidade de que cada um expressasse livremente o seu ‘eu mais profundo’, a sua ‘verdade mais intrínseca”‘, permitindo que descobríssemos a “extensão da cloaca humana”. É possível reverter esse processo? Além disso, essa cloaca humana exposta levou a grandes rachas não só na sociedade, mas também entre familiares, amigos… Como lidar com pessoas eventualmente queridas – ou outrora queridas – que passaram revelar e se orgulhar cotidianamente de ideias e posicionamentos cruéis, autoritários, elitistas, racistas, machistas, homofóbicos…?
Não sei. Acredito que as pessoas precisam se responsabilizar pelo que falam. Sempre defendi a necessidade de escutar e de conviver com as diferenças. Acredito que as diferenças são uma força, não um problema. Mas ser diferente não é defender crimes e fazer apologia a crimes. Isso é crime também. Se alguém defende o racismo, é racista, se alguém faz piadas de LGBTIs, está sendo homofóbico. Se alguém discrimina ou humilha mulheres, está sendo misógino e estimulando a violência contra mulheres. Não acredito que se possa criar uma sociedade em que todos possam viver suas diferenças com dignidade tolerando a violência. A violência é intolerável. E isso vale para as relações pessoais. Uma pessoa não pode ser querida para mim se ela é racista ou misógina ou homofóbica, por exemplo. Tento fazer essas pessoas entenderem que a piada delas, que acham que é indolor, mata gente. Há uma longa cadeia de acontecimentos entre a naturalização da piadinha racista e a naturalização do genocídio da juventude negra, mas a conexão existe, é real. Se a pessoa que eu gosto não percebe isso e mantém seu comportamento violento, ela não é mais querida para mim. Lamento, mas não pode ser. Posso entrevistar, como jornalista, mas não convivo na minha vida pessoal com racistas, misóginos e homofóbicos. Não frequento suas casas.
As pessoas têm direito à sua opinião, mas não a incentivar o crime e a violência. Acho que há uma certa confusão sobre isso na sociedade brasileira hoje. Fazer apologia ao crime não é ter opinião diferente. É fazer apologia ao crime. E isso não pode ser tolerado. É uma lógica semelhante às pessoas acharem que defender que a Terra é plana é uma opinião. Não é. A Terra é redonda. É um fato. Defender que a Terra é plana é só difundir uma mentira, é só expor a sua ignorância. E isso não podemos permitir, já que parte da ciência que movimenta nosso cotidiano – e também o cotidiano dos terraplanistas – é baseada neste fato. Temos que combater enfaticamente a ignorância, porque ela destrói, e destrói principalmente o corpo dos mais frágeis. Pegando emprestada a frase do senador americano Daniel Patrick Moynihan, “as pessoas têm direito a sua opinião, mas não a seus próprios fatos”.
“Em 2009, eu também acreditava que o país havia finalmente chegado ao futuro, embora com uma boa dose de passado exposta pelo ‘mensalão’ e pela decisão do governo do PT de materializar a hidrelétrica de Belo Monte no amazônico Xingu”, você escreve na introdução o livro. Isso me faz lembrar de um trecho de “Índios”, música da Legião Urbana: “Que o que aconteceu ainda está por vir/ E o futuro não é mais como era antigamente”. Qual é o futuro que você vislumbra para o Brasil a curto e médio prazo?
Fazer futurologia é o contrário do jornalismo, como você sabe. Mas há fatos, indicadores e modelagens que nos permitem fazer algumas afirmações. A mais importante delas é que o futuro não só do Brasil, mas do planeta, será pior. O que disputamos hoje é a diferença – bastante grande – entre um futuro ruim e um futuro hostil para a espécie humana e para muitas outras espécies. É a diferença entre o aquecimento do planeta ficar em 1,5 graus ou atingir 2 graus. Este meio grau já faz muita diferença. Com 2 graus, por exemplo, quase certamente todos os corais desaparecem. Viveremos num mundo sem corais, uma das maiores belezas deste planeta, algo vivo que se extinguirá.
Hoje países estratégicos para o enfrentamento da emergência climática, como Estados Unidos e Brasil, estão sendo governados por negacionistas do clima. Na minha opinião, o governante que nega uma evidência científica indiscutível como a emergência climática provocada por ação humana é um criminoso que deve ser responsabilizado, porque está condenando a humanidade inteira e também outras espécies a uma vida muito pior ao não fazer as políticas públicas necessárias. Como temos estes negacionistas no poder, que negam o colapso climático por razões de lucros privados imediatos, não por ignorância, o que os torna ainda mais asquerosos, o mais provável é que até o final deste século, ou mesmo antes, teremos um superaquecimento de 3 ou 4 graus. É a previsão se o ritmo atual se mantiver. Isso significa dizer que nossos filhos e netos terão uma vida muito pior.
Essa piora já está acontecendo, só que as pessoas não conseguem relacionar. O ambiente está corroído e as pessoas sentem isso no seu cotidiano, mas não conseguem nomear o que sentem como consequência da crise climática. O antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, que na minha opinião é um dos mais incríveis pensadores vivos hoje no mundo, fez uma comparação muito interessante numa entrevista que fiz com ele alguns anos atrás. A partir do filósofo alemão Günther Anders, que afirmava que a bomba atômica foi o momento em que os humanos criaram algo cujas consequências não poderiam prever, Viveiros de Castro faz uma alegoria com o colapso climático. Existem aqueles fenômenos subliminares, que estão acontecendo o tempo todo, dentro e fora do nosso corpo, e que não podemos ver. A emergência climática é um fenômeno supraliminar. É tão grande que também não conseguimos ver. Mas tenho certeza que sentimos. E cada vez mais detectamos. Precisamos começar a nomeá-lo. Para os indígenas, beiradeiros e quilombolas da Amazônia e outros biomas isso é muito claro há décadas. Mas acho que os não indígenas, como nós, mesmo vivendo numa parte do planeta engessada pelo concreto, já podem sentir claramente os efeitos na sua vida.
A crise climática atravessa todas as grandes questões do nosso tempo. É tanto causada pela desigualdade, já que uma pequena parte da humanidade é a maior responsável pelo superaquecimento global, como também é também uma grande produtora de desigualdades, já que os que estão pagando primeiro e com menos condições de se proteger, porque dependem de políticas públicas que não são tomadas, são os mais pobres, as mulheres e os negros. É claro que todos serão radicalmente afetados, porque estamos falando de um planeta que muda. Mas há os que são afetados primeiro e com mais força, o que podemos perceber nas migrações e nos levantes populares que já estão ocorrendo. A água claramente vem se tornando a questão mais importante do nosso tempo. Tenho 53 anos. E sei que viverei num planeta pior ainda durante a minha existência. Já estou vivendo. Este futuro já é presente, já está acontecendo, é um futuro logo aqui. Se o futuro será apenas ruim ou francamente hostil vai depender de a população acordar e passar a pressionar os governantes. Acordar não amanhã, mas ontem. Acordar já em pé.
Você é uma jornalista que está em campo, em contato permanente com os problemas do país, mas também com suas virtudes. De tudo o que você presencia andando pelo Brasil e constata ao refletir sobre o país, quais são os elementos que lhe dão a esperança de dias melhores, se é que eles existem? E como seriam esses dias melhores?
Ao contrário da maioria, eu não tenho grande apreço pela esperança. Acho que ela é supervalorizada e tem sido manipulada por políticos à esquerda e à direita. Acho também que esperança é um luxo que já não temos. Não digo isso para criar uma frase de efeito, digo isso porque a esperança tem sido manipulada hoje como a felicidade foi manipulada anos atrás, virando mais uma mercadoria. A esperança hoje não está movendo, mas paralisando. É esperança para esperar. E não podemos esperar. Em tempos de emergência, temos que agir. Adoro quando a ativista Greta Thunberg diz: “Nossa casa está em chamas. Eu não quero a sua esperança. Eu quero que vocês entrem em pânico”. Ela tem toda razão. Não temos esse luxo de só agirmos se tivermos esperança. Temos que nos mover por imperativo ético, inclusive porque ferramos o planeta em que nossos filhos e netos viverão. Não dá para ser mimado e ficar exigindo esperança para nos mexer. Não tenho muita paciência com gente mimada quando o mundo está ruindo. Você precisa de motivação, precisa ter sua alma encerada pela esperança? É o seguinte. Se você não se mover, logo vai ter muita dificuldade para beber água não contaminada, como já acontece com alguns povos do mundo.
Prefiro responder ao que me dá alegria. Viver numa das Amazônias, a do Médio Xingu, me deu uma outra compreensão da vida. Como convivo com povos cujos ancestrais já viveram o fim do mundo antes, caso dos indígenas, e com povos que acabaram de viver o fim do mundo de novo, caso dos indígenas e dos beiradeiros atingidos pela usina hidrelétrica de Belo Monte, tenho testemunhado como eles lutam. Nunca tinha visto ninguém lutar assim antes. Usam a alegria como “potência de agir”. A alegria de estar junto e de compartilhar a vida, mesmo na catástrofe. Riem por desaforo diante dos déspotas do mundo. Para os não indígenas e os não beiradeiros é difícil compreender essa força da alegria, que não tem nada a ver com a esperança. Uns tempos atrás um novo procurador da República, que se mudou recentemente para Altamira, me disse que só tinha entendido a potência da alegria depois de ouvir um homem recém-libertado de um processo de escravidão contemporânea. Ao escutá-lo, deparou-se com um riso que era dignidade e resistência. Tenho chamado esse movimento de “vida feroz”. A vida feroz é muito potente.
Tenho convicção de que o movimento que pode criar um futuro onde possamos viver, mesmo com todas as dificuldades da crise climática, vem da nossa capacidade de recolocar as periferias, as urbanas e as da floresta, no lugar ao qual pertencem: o de centro. Temos de deslocar as visões hegemônicas, brancas, do que é centro e do que é periferia. Temos de conseguir tecer uma aliança entre os negros das periferias urbanas e os povos da floresta, entre os sem-teto, os sem-terra e os que não querem virar os sem-floresta. Esse movimento de insurreição, que vem tomando os Brasis pelas bases nos últimos anos, é o movimento que as elites que colocaram Michel Temer no poder e também o bolsonarismo tentam barrar. É neste movimento – e ele está em curso – que podemos criar um Brasil outro.
Tenho também testemunhado (e convivido com) essa novíssima geração maravilhosa que está emergindo. Sou muito fã destes jovens. Não os mimados filhos das classes altas e médias que acham que consumir é viver e que são merecedores de privilégios apenas porque respiram. Mas estes que recusam esse lugar e estão se contrapondo ao consumo e tecendo um movimento de solidariedade global. Essa geração está derrubando todo o tipo de muros criados pelos déspotas que nos governam. Para mim só faz sentido lutar ao lado deles. Quero que eles se sirvam de mim, do que sei, do que aprendi e do que ainda aprenderei. Estamos junt@s.
Há mais de duas décadas que você frequenta a Amazônia. Hoje mora na em Altamira, inclusive. Indo além do que a mídia retrata, como a questão das queimadas, quais as diferenças que você notou na região e quais problemas ou melhorias você vivenciou por aí desde que Jair Bolsonaro foi eleito presidente?
Numa época de emergência climática, a Amazônia é o centro do mundo. Se eu afirmo isso, se eu defendo isso, por que então eu não estava no centro do mundo? Levei um ano para organizar minha mudança. Inverti então o ponto de vista desde onde eu olhava para o Brasil. Me mudei em 2017 para Altamira para um projeto de um ano. E fiquei. Não se faz um gesto deste tamanho sem que a gente mude muito profundamente. Eu mudei. E sigo mudando. Isso causou vários rompimentos na minha vida. E mudou o meu olhar para o Brasil e para o mundo.
O que a gente percebe, vivendo numa região como a de Altamira, é a literalidade. Quando Bolsonaro ou outra pessoa com autoridade em Brasília diz algo, a repercussão aqui na Amazônia é imediata. Palavras lá em Brasília, mortes aqui na Amazônia.
Eu só consigo responder qualquer coisa contando o processo. Não dá para isolar os fatos. Dizem que faço textão. Faço mesmo. Alegremente. Por responsabilidade com contexto e processo. Por respeito à memória. Assim, preciso responder à tua pergunta recuperando o que é continuidade, apontando o que é ruptura, que é o que faço no meu livro. A construção de Belo Monte é uma articulação dos governos do PT-PMDB. A usina foi toda construída como se o Brasil estivesse vivendo um regime de exceção. A lei simplesmente não era aplicada. O Estado servia à empresa. Foi uma experiência aterrorizante para quem a viveu, principalmente, mas também para quem a testemunhou. E testemunha, porque os impactos mal começaram.
Com Lula, pelo menos havia uma preocupação com as aparências, com simular um diálogo. Lula conversou com as lideranças contra Belo Monte, em Brasília. Só que não as escutou. Conversou apenas para dizer que conversava. Já estava tudo decidido. Dilma não se preocupava com aparências. Para além de Belo Monte, porém, até perto do impeachment havia algumas instâncias democráticas que funcionavam na região durante os governos do PT. Ainda que os governos do PT tenham se aproximado cada vez mais dos ruralistas, a ponto de Katia Abreu ter se tornado ministra da Agricultura do governo de Dilma Rousseff, restavam alguns compromissos com políticas públicas voltadas às comunidades. Já no processo de impeachment, a violência se acirrou e era possível sentir claramente a crescente desenvoltura dos grileiros.
Com Michel Temer, o ambiente se corroeu muito rapidamente. Isso aparece nas ameaças contra pequenos agricultores, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, que se multiplicaram. A violência é algo que se pode sentir até na postura corporal de quem passa a se sentir respaldado. Tudo na Amazônia é imediato. Quando a reforma trabalhista passou a valer, alguns empresários de cidades da região demitiram seus empregados no dia seguinte. De um dia para o outro eles perderam todos os benefícios legais e entraram na informalidade. Passaram a trabalhar para as mesmas empresas, sem limite de horário, sem benefícios e por uma diária de fome. É assim que funciona o Brasil real, enquanto na sala de jantar os engravatados ficam regurgitando que “é preciso modernizar as relações trabalhistas”. Estas pessoas precarizadas vão reclamar dos donos da cidade para quem? Se reclamarem, terão que migrar. Em alguns lugares da Amazônia, como se sabe, as reclamações trabalhistas são enterradas junto com os corpos dos escravos modernos. Ninguém vive pior e tem seu corpo mais esgotado do que aqueles que foram arrancados da floresta para virar pobres nas periferias urbanas das cidades amazônicas. Essa conversão de povos tradicionais em pobres urbanos é um crime hediondo.
Dito isso, é preciso afirmar muito claramente que, desde o fim da ditadura militar, não há precedentes para o que acontece na Amazônia com Bolsonaro no poder. Desde antes da eleição eu escrevo que o principal projeto do bolsonarismo é abrir a floresta para a exploração predatória: boi, soja, mineração e grandes obras. Enquanto seguem as tentativas de deformar a Constituição de 1988, no Congresso e na Justiça, o projeto bolsonarista avança rapidamente. E como? Primeiro, todas as demarcações de terras indígenas foram suspensas. Ou seja. Não se avançará na proteção da floresta e de outros biomas.
Segundo, todo o sistema de proteção está sendo desmontado e os órgãos de fiscalização estão sendo enfraquecidos. Bolsonaro e seu ministro contra o meio ambiente, Ricardo Salles, dão recados claríssimos de que está tudo liberado, ao mesmo tempo em que desautorizam a fiscalização, colocando funcionários públicos em risco de morte. Enquanto isso, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, liberou e segue liberando um número recorde de agrotóxicos: 490 desde janeiro. Não é apenas o ambiente do país que está envenenado por ódios. Este governo está literalmente envenenando o Brasil com pesticidas que estão na nossa comida, na nossa água e no nosso ar. Fico sempre pensando como essa gente dorme, que tipo de explicações dão para si mesmos para conseguir se manter no próprio corpo envenenando milhões de pessoas para lucros e vantagens privadas, matando gente com suas palavras e canetadas. Mas aparentemente eles dormem.
A expressão mais exata de como agem os grupos que destroem a floresta é o Dia do Fogo, ocorrido em 10 de agosto. Grileiros e fazendeiros da região de Novo Progresso entenderam que Bolsonaro pedia uma declaração de lealdade e uma demonstração de força para respaldar a sua política contra a floresta. Entenderam corretamente, porque Bolsonaro não se cansa de deixar clara a sua escolha. Anunciaram então o Dia do Fogo. Saiu no jornal cinco dias antes de acontecer. No jornal! Nenhuma providência foi tomada pelo governo. E a floresta queimou.
Se as pessoas do Centro-Sul do Brasil não compreenderem que, sem a floresta, a vida delas será muito ruim e se unirem pelo objetivo comum de salvar a Amazônia, a floresta poderá chegar ao ponto de não retorno com Bolsonaro. Lutar pela Amazônia hoje significa não só zerar o desmatamento, mas reflorestar a floresta. Infelizmente, parece que a população segue paralisada e achando que a floresta é longe, sem entender que tudo o que acontece na Amazônia já está corroendo a sua vida cotidiana, mesmo vivendo numa grande cidade como São Paulo.
https://paginacinco.blogosfera.uol.com.br/2019/11/08/eliane-brum-a-esperanca-tem-sido-manipulada-virou-mais-uma-mercadoria/




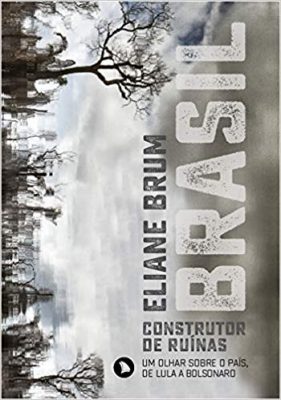






Deixe uma resposta